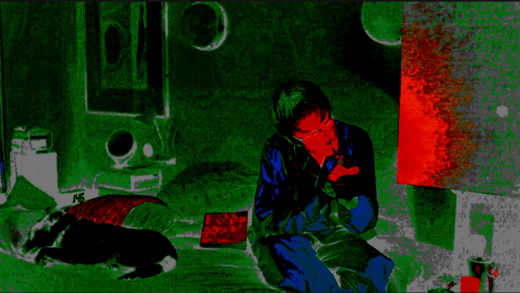com oitenta anos recém-completados em julho de 2017, Sylvio Back segue uma trajetória única no cinema. Pioneiro do cinema de arquivo, ou foundfootage, técnica de remontagem de registros históricos, Back é uma incógnita.
Glauber Rocha o chamava de “cacique do Sul”, com verdadeira admiração por sua obra. O cineasta Zeca Pires vê uma “poética de neologismo sintático” em suas obras, que misturam ficção e documentário.

Convidado para produzir a Mostra Sylvio Back 8.0 – Filmes Noutra Margem, me debrucei sobre um material de texto e de imagens que alimentou drasticamente essa incógnita, levando a retomar uma hipótese sobre a memória do cinema brasileiro, em relação a seu acervo, difusão e pensamento crítico.
Quando estive no CineOP (Mostra de Cinema de Ouro Preto), no seminário da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, fiquei emocionado com o depoimento de Cavi Borges, notório realizador independente do Rio de Janeiro que está buscando redescobrir as obras de cineastas como Luiz Rosemberg Filho e Neville d’Almeida, ainda sem apoio para digitalizar em alta definição e distribuir em cinematecas.
Lá em Ouro Preto lembrei-me da obra de Sylvio Back na qual discussões que Rogério Sganzerla sempre tocou como “o que é ser catarinense” vêm à tona quando se fala de um cineasta que logo cedo foi morar em outros lugares. Nesta entrevista ao Ô Catarina!, busco conectar indagações que tenho há tempos como espectador, misturando algumas referências novas que encontrei no “Verbete Back” da Enciclopédia do Cinema Brasileiro (Ed. Senac, Org. Fernão Pessoa Ramos e Luiz Filipe Miranda), na qual se constata que é, hoje, o cineasta que mais produziu livros, filmes e prêmios em atividade no país.
Sobre Lost Zweig, o crítico José Geraldo Couto define o tom de sua direção como elegíaco,
conduzindo com delicadeza um duplo requiém (por uma civilização e por um homem), refletido nos movimentos de câmara e em cores frias.
Em contraponto a essa delicadeza, Carlos Alberto Mattos fala que o senhor trata a História como uma puta (SIC) sempre aberta à livre dramatização e às licenças da metáfora.
Do lado do espectador, essa dúvida é para ser questionada também ao assistir a seus filmes?
Espectador e leitor são soberanos. Fui crítico diário de cinema nos anos de 1960 e nessa condição eu
queria porque queria fazer parte do show. Acontece que a obra está aí para o que der e vier. Com as exceções de praxe (como os citados, ambos, brilhantes!), crítico é aquele sujeito com a soberba de melhorar o que está concluído! Já calei alguns (com réplicas à redação) que se arvoraram em dar palpites no meu roteiro, na direção e na edição.
Lost Zweig e todo o conjunto de minha obra levantam propositadamente essa ambiguidade da sua pergunta. Adoro deixar público e críticos órfãos, sem corrimão político, ideológico e estético por onde se situar e enquadrar o fotograma. Assino um cinema moral. Filmes cujo único compromisso é com o imaginário do público.
Não por acaso meu cinema é muitas vezes vilipendiado, desqualificado e ridicularizado, quando não
omitido. No final das contas, melhor assim, pois seu tom polêmico acabou por dotá-lo de inimitável assinatura autoral.
O escritor Stefan Zweig já foi o Paulo Coelho de sua época, alcançando o status de mais publicado e traduzido do mundo. Foi amigo de Auguste Rodin e Sigmund Freud. Na ascensão do nazismo, foi para os Estados Unidos e conseguiu visto para o Brasil por conta da repercussão do livro País do Futuro.
No Rio de Janeiro ele encontrou Orson Welles filmando It’s All True. As ligações em torno de Stefan Zweig são imensas, mas desconhecidas de um grande público. Seria hoje o Brasil de Paulo Coelho o “país sem memória”?
Não sejamos injustos com criadores como nós próprios, hein? Cada um a seu modo e talento, da época
que os merecia e merece. Ambos, inquestionáveis best sellers, nem por isso maiores ou menores.
Todo poder à invenção que cada um produz e angaria leitores e cultores. Stefan Zweig, intelectual libertário
com vocação cosmopolita, homem sem vezo religioso — nesse atual cotidiano de desvario terrorista —, erige-se de uma modernidade à toda prova.
Há oitenta anos, defendendo uma Europa sem passaportes e com moeda única, Zweig era contrário à criação de um Estado de Israel (segundo ele, judeus não precisam de nação, mas de pátria e, nessa condição, cada país que os acolhe passa a ser sua pátria!). Sem falar do seu pacifismo militante, antibelicista e humanista, acostumado a pensar com a própria cabeça, infenso a ideias e ideários servis, à esquerda e à direita.
Um homem à frente do seu tempo e de todos os tempos. Foi essa independência existencial que me atraiu para fazer Lost Zweig, cujo fim trágico, o duplo suicídio com sua jovem esposa, Lotte, soou como o mais contundente protesto contra a barbárie hitlerista que tomava conta da Europa, e aqui vivíamos a ditadura antissemita de Vargas.
O ator Rüdiger Vogler tem sua imagem associada fortemente à primeira fase do Wim Wenders com a “trilogia da Estrada”, no qual um deles, o Movimento em Falso, é baseado no célebre Wilhelm Meisters Lehrjahre, de Goethe. No meu predileto da trilogia, Decurso do Tempo a paisagem, o deslocamento e o próprio cinema são temas
narrativos. Seria Lost Zweig seu filme mais narrativo, mesmo com as constrições de movimentos de câmera e metáforas visuais? A influência em todo o mundo do “Neuer Deutscher Film” com Wenders, Herzog e Fassbinder em seus “road-movies”, diluindo a densidade pós-guerra, parece ter um efeito contrário em seu estilo narrativo de ficção. Parece-me que a densidade dos seus temas é superada ora pela ironia, ora pela elegia. Seria o Reginaldo Faria do seu primeiro longa Lance Maior um “anti-Wilhelm Meister”?
Com o passar dos anos, e ainda mais na atualidade dos meus oitenta, o que era influência na juventude e maturidade não faz mais muito sentido. Uma cinefilia que foi esmaecendo, mas sem perder vigor e fulgor. Cineasta intuitivo, jamais botei o olho no visor procurando homenagear os diretores de minha eleição. Em termos de linguagem e narrativa, sou um livre atirador estético, avesso a formas e formas. Assim, desde a escritura dos roteiros (autor e coautor dos meus 38 filmes de curta, média e longas-metragens), evito prenunciar a decupagem das cenas, dos movimentos de câmara, luz e som, à direção de atores (por sinal, deixo que eles próprios “encontrem” o personagem!). Adoro inventar no set
de filmagem, sentir a temperatura afetiva da equipe, do elenco, entre cenógrafos, figurinistas, maquiadores, etc. Gostaria que alguém que se debruçasse, agora ou no futuro, sobre minha obra tivesse a percepção que eu próprio tenho dela: parece que cada filme foi feito por um outro diretor. Nunca me dublo: se o filme deu certo, o próximo é risco novamente.
E flagro isso até em temas aos quais voltei décadas depois, como em O Contestado – Restos Mortais, feito
quarenta anos depois de A Guerra dos Pelados. Nessa chego a me desmentir, exorcizando equívoco tanto
ideológico quanto geopolítico com relação à Guerra do Contestado, o que provocou grande ira na região
e no estado. Não tenho glórias a preservar, porque nunca as tive! Pelo contrário, tive que chutar a porta
do cinema brasileiro para poder entrar!
Parte da crítica considera seus documentários com uma figura de linguagem predominante, do sarcarsmo.
Antes de entrar na questão da pesquisa, que para mim na praia do found footage (ou cinema de arquivo como denomina Silvio Tendler), é uma das mais incríveis do cinema, quero perguntar sobre esse sarcasmo.
Na estreia de Rádio Auriverde, na Fundação Catarinense de Cultura, no cinema do CIC, lembro que um senhor bradava que os pracinhas da Segunda Guerra “mereciam respeito”.
De outro lado, seu outro filme com dramaturgia sobre Cruz e Sousa recebeu pancadas de todos os lados, tachado de exagerado e teatral.
A pergunta é, dentro dos seus 80 anos recém-completados, seu cinema é calculado para ter essas reações (e você se diverte com isso, como o faz Sergio Bianchi), ou você “liga o foda-se” e faz o que quer, e é sarcástico mesmo, e Cruz e Sousa é seu parça que você se identifica como artista?
Você tem toda a razão. Se tem denominador comum no que intitulo de antidocs, meus docudramas (misto de doc & ficção), já que não sou um documentarista lato sensu, pois toda realidade uma vez filmada vira armazém do passado! É o sarcasmo, o humor, a ironia e, acrescentaria, uma absoluta desconfiança, eis a invisibilidade deles. Faço um
cinema que desconfia. Antiutópico, pelo dissenso e na contramão de palavras de ordem política e ideológica. Ou seja, não procuro fundar verdade alguma.
Como dizem os chineses, a verdade está no fundo poço. E não seria o cinema a melhor seara para difundir “verdades”. Daí esse cinema desideologizado que venho articulando desde a cúspide da década de 1970, precisamente, com Aleluia, Gretchen. Naquela quadra caiu o meu “Muro de Berlim”… Jamais levar o espectador pela mão, ele é sempre mais esperto do que nós: o olho é mais rápido do que o pensamento. Acreditando na capacidade de discernir,
cada imagem, seja filmada ao vivo, seja de arquivo, é uma descoberta para sua consciência. Sou o primeiro autor a dialogar de forma assimétrica, crítica e irreverente com o material de arquivo (a ver Revolução de 30, Rádio Auriverde (1991) e Yndio do Brasil (1995). O vencido mente tanto quanto o vencedor.
É que todo filme de arquivo vem literalmente “batizado” pela ideologia do seu tempo de apreensão da realidade e da história contemporâneas. Portanto, é um manancial de verdades e mentiras de que só o espectador saberá se desvencilhar com suas próprias idiossincrasias. Uma aventura moral de inexcedível prazer estético que procuro incutir em meus filmes.
Completando 80 anos em plena pesquisa e atividade, o senhor gostaria de fazer um filme como O Grande Hotel Budapeste, de Wes Anderson, com roteiro chupado das obras O mundo que eu vi (concluída em Petrópolis) e Cuidado da piedade, de Stefan Zweig, no sentido de grandes orçamentos, direção de arte, atores famosos? Algum dia Hollywood já foi sua ambição?
A pergunta é um golpe baixo, no bom sentido. A citação da bela Budapeste, cidade natal do meu pai,
judeu húngaro, nascido, exatamente, em Pest, que
chegou ao Brasil em 1920 como imigrante e aqui encontrou nos anos de 1930 em Blumenau a imigrante alemã, minha mãe, recém-chegada ao Brasil fugindo do nazismo com a família. E foi dela que pela
primeira vez ouvi falar de Stefan Zweig, tornandome seu assíduo leitor. Como, também, já adolescente, vim a saber que Back-pai, como seu conterrâneo
do então Império Austro-Húngaro, se suicidara aos
sessenta anos no Rio de Janeiro, ele em 1950 e Zweig
em 1942. Na juventude e já trabalhando como jornalista, antes de dedicar-me full time ao cinema,
como se fora algo cármico, gostava de ler bilhetes e
cartas deixadas por suicidas. Foi assim, a bordo dessa coincidência existencial que me debrucei para
tentar alguma resposta para a automorte. Na verdade, ao pesquisar e escrever o roteiro, em Lost Zweig
acabei abandonando a ideia de tentar desvendar o
insondável. Ao contrário, aprofundei o mistério. Em
compensação, o filme elucida a vida de um homem
excepcional. Sim, qual o cineasta mundo afora que
jamais pensou em filmar em Hollywood? Afinal,
Hollywood sempre fez os melhores e piores filmes
do ano (ainda que ultimamente, esteja produzindo os piores), e todos fomos formados por ele. Se
algum preciosismo tecnológico (o cinema nasceu
com a luz elétrica!) perpassa minha obra, devo ao
cinema americano, no qual cada filme, por medíocre que seja, traz a melhor resolução imagética,
com a qual fomos catequizados ao longo de um
século. Propriamente, filmar em Hollywood nunca
me atraiu, ainda que com Lost Zweig tenha flertado com o mercado internacional, diálogos originais
em inglês, com os dois atores principais europeus,
a temática universal. Mas, como já aconteceu com
praticamente todas as tentativas (sim, há exceções
confirmando a regra), o cinema brasileiro ainda vive
a mitologia de uma internacionalização que é mais
ufanista do que concreta. O nosso contínuo sucesso artístico remonta ao Cinema Novo, com filmes
autorais, hoje cada vez mais raros e ralos, e dessa
levada não tenho queixas, afinal, nada suplanta a
criação livre e independente, que é, imodestamente, a marca do meu cinema.
Sua filmografia tem muito da dor e das injustiças e fica em um meio difuso de entender a
classificação de filme histórico ou autoral.
Fazer história é um processo autoral ou a narrativa são camadas de interpretação do momento em que são lidas, independentemente
da intenção do autor? Hoje, com a iminência
do neonazismo voltando à tona, seria Aleluia, Gretchen uma profecia ou sua “weltanschauung” misturada com uma cosmovisão de
Cruz e Sousa, entre “raios, pedradas e metralhas”? Afinal, ser catarinense já é nascer em
uma puta injustiça de fato?
Nascido em Blumenau, ainda que criado no Paraná (litoral, Antonina, Paranaguá e Curitiba; hoje
com trinta e dois anos de Rio de Janeiro), sou um
catarinense orgulhoso desde a juventude, quando
me descobri apaixonado pelo verso do genial Cruz
e Sousa. Poeta, leitor de poesia (minha estante poética é maior do que a de cinema!), então nunca
pensei em cinebiografá-lo. Ao longo das intempéries da vida e da sobrevida, que é formatar e levar
à frente uma carreira cinematográfica no Brasil, em
especial, fora do eixo Rio-São Paulo, só e tenho reconhecimento: Paraná e Santa Catarina, às vezes pelas vias mais tortas e inimagináveis, me proporcionaram régua e compasso para esta filmografia que
agora disponibilizo com todo o prazer aos jovens e
à população de Santa Catarina. Conhecer a sofrida
intimidade social, racial, artística e moral de Cruz
e Sousa foi uma das pedras de toque inspiradoras
do que é crescer e aparecer na província e fora dela,
ora direis. Se uma irrevogável madrastice a permeia
desde sempre, seja aqui, seja acolá, vamos ser realistas, não é exclusividade de nossa terra natal e por
adoção. Desde Sófocles, Shakespeare e Brecht, a tragicomédia do ser humano continua em cartaz!
O que está sentindo, hoje, aos oitenta anos?
Conforto, esperança, tristeza, confiança ou mágoas a exorcizar?
Sempre fiz “aniversário” ao terminar um filme,
como o mais recente, O Universo Graciliano, de
2013, o trigésimo oitavo da carreira. Dessa vez não
deu. Jubilosamente, traí-me! No entanto, quero
crer, ainda dá tempo com um detalhe: antes quero
envelhecer pra saber como é que é ser velho! Faço
ouvidos moucos ao chororô de queridos amigos
de 50 e 60 anos sofrendo por antecipação a longevidade. Olhaí, deve ser bacana chegar a macróbio! Para minha alegria, ao ensejo da emblemática data, Santa Catarina prepara grande mostra de
meus doze longas-metragens, acompanhada de
belo catálogo que leva o jovial e sintomático título
de “Sylvio Back 8.0 – Filme Noutra Margem”. Melhor, impossível! Por outro lado, eu sei, é forte o
simbolismo da efeméride dos oitentão, uma idade
que, mocinhos, jamais pensamos chegar lá, como
se fora um Everest biológico inatingível! Alimento
com prazer uma pergunta recorrente: o que preciso ainda fazer ou concluir ou publicar ou lançar,
poemas, artigos/ensaios, roteiros, filmes e livros?
Essa premência é uma luminosa parceira desde
a juventude, pode crer! O homem é sua obra, e
ponto final. O que me anima todas as manhãs é
essa premência; levanto sabendo que há o que
criar, formatar e concluir. Por essas e outras sinto que “my life is brilliant/my love is pure”, como
diz a canção. Afinal, que os filmes falem por mim
porque sempre foram melhores do que eu! Que o
digam as dezenas de colaboradores com quem,
afetuosamente, compartilho uma obra que, se
subsiste, é graças ao estro e à expertise deles.
(Pedro MC é presidente da Associação
Cultural Cinemateca Catarinense, conselheiro
municipal de política cultural e coordenador do
Ponto de Mídia Livre Cine Maciço, Florianópolis/SC)